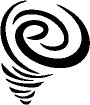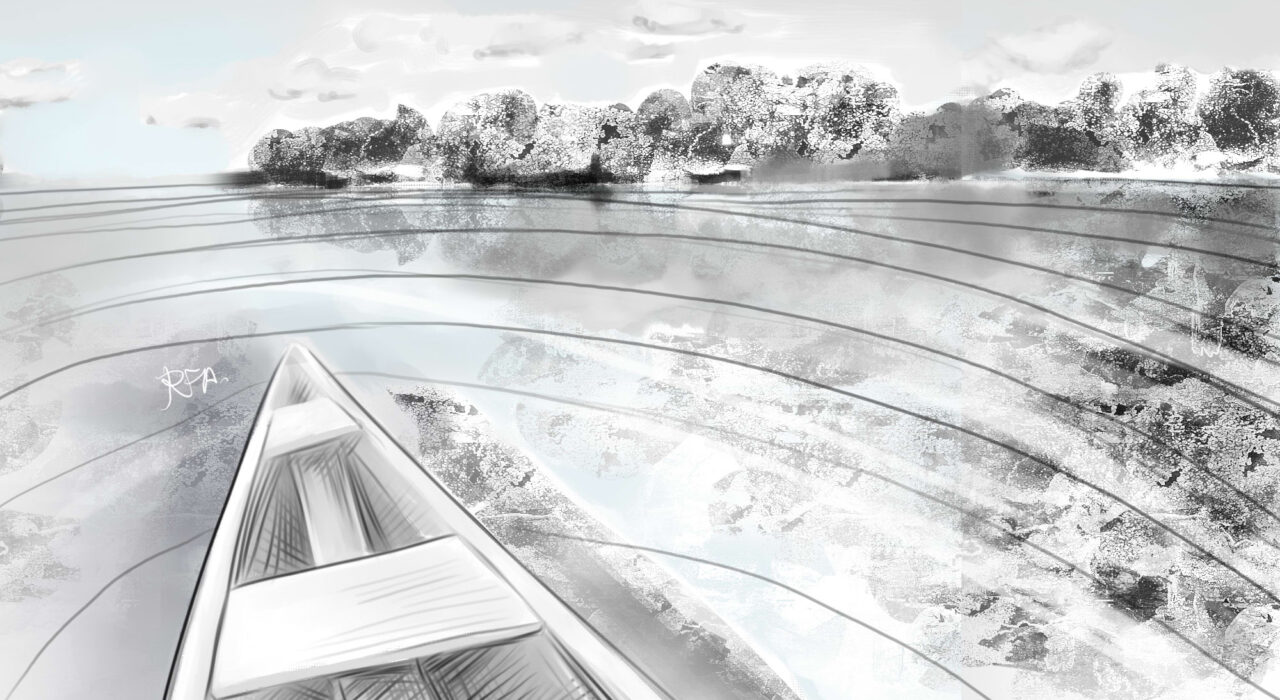[Coautores: Vítor Hugo dos Reis Costa[1] e Weiny César Freitas Pinto[2]]
Segundo Platão (2011), o conhecimento, em sentido socrático, é oposto à opinião, mas, atualmente, conhecimento e opinião não parecem ser coisas tão distintas: a lógica matemática e as fake news, pasmem, são frutos de um processo de ensino-aprendizagem, o que quer dizer que são igualmente aprendidas e replicadas – a segunda mais que a primeira, infelizmente! No entanto, o que difere conhecimento e opinião é a reflexão, pois avaliar criticamente os pressupostos de um discurso permite a construção de enunciados que podem ser encadeados racionalmente, possibilitando conhecimento rigoroso. Nesse sentido, Platão (2011) afirma que a prática médica, por exemplo, se dá por meio da identificação do problema que acomete o doente e, assim, deve poder oferecer um tratamento adequado.
Quem aprende a diagnosticar uma doença adquire conhecimento, e esse processo está relacionado a uma reflexão sobre o que é apreendido. Não há uma aceitação irracional sobre os pressupostos para realizar uma avaliação médica. Ou seja, para Platão, o conhecimento está associado à possibilidade de ensino e aprendizagem, contudo, o que o difere da opinião é o valor atribuído à capacidade de reflexão. A relação entre reflexão, conhecimento e opinião, além de permear a prática médica, como no exemplo platônico, possui um campo de atuação muito mais abrangente que o da medicina.
O filósofo Arthur Schopenhauer (1788–1860) desenvolve importante reflexão sobre o “princípio de razão suficiente”, segundo o qual “tudo que é possui uma razão para ser desta forma e não de outra”. O filósofo transita entre o idealismo transcendental (perspectiva que supõe possível a existência de certos conhecimentos anteriores à experiência) e o empirismo das ciências da natureza (conhecimento proveniente da observação do mundo) para demonstrar a complementaridade desses elementos a partir do referido princípio. Com efeito, o princípio de razão suficiente pode ser dividido em duas partes: 1) a razão de conhecimento, isto é, a lei lógica da razão que possibilita saber e provar que uma coisa é, e que fundamenta juízos, se aproximando da matemática e das ciências da natureza; 2) o conhecimento das causas, que diz respeito a saber e provar “por que” algo é, e está ligado à lei transcendental[3] de causalidade que viabiliza a investigação da motivação humana. Portanto, podem-se avaliar os critérios, métodos e conceitos de diversos conhecimentos – médico, matemático, filosófico, político e religioso –, sem que a reflexão sobre o conhecimento se submeta hierarquicamente a eles.
Ora, mas se o conhecimento em sentido socrático pode ser caracterizado por sua oposição à opinião, o que vem a ser exatamente uma opinião? Ela é antagônica ao conhecimento, pois 1) sua existência não necessita de reflexão ou crítica, podendo ser fundamentada em sentimentos e paixões; 2) ela não possui “rigor lógico”, ou seja, não passa – nem precisa passar – por critérios e métodos, nem tampouco precisa formar conceitos. Tomemos como exemplo a opinião, muito disseminada por alguns influenciadores digitais, de que o uso de cúrcuma para escovação dos dentes substitui o uso de pasta dental com flúor. A aceitação desta opinião pode deteriorar a saúde bucal de um país inteiro, uma vez que o flúor é necessário, dados os hábitos alimentares da nossa sociedade de consumo (ampla presença de alimentos industrializados, excesso de açúcares etc.).
A posição sobre o uso de flúor para a saúde bucal é embasada em um conhecimento proveniente da ciência, que é caracterizada por sua metodologia de investigação dividida em observação, coleta de dados e experimentação. Sendo assim, o conhecimento científico muitas vezes contraria a opinião comum, como no caso do “debate” sobre o uso de cúrcuma ou pasta dental com flúor. O ponto é que, ainda que possam existir diferentes sociedades que utilizam métodos alternativos ao flúor, é preciso debater os critérios, métodos e conceitos envolvidos nesse hábito, uma vez que o contexto político e cultural não deve se sobrepor ao conhecimento, pois a reflexão sobre o conhecimento deve ser feita, não exclusivamente, mas em primeiro lugar, a partir de pressupostos formais, e não culturais.
O conhecimento, assim entendido, não está necessariamente sempre vinculado a aspectos políticos. Ao considerarmos, por exemplo, que números não possuem nacionalidade, que todo gênero humano possui racionalidade, que todas as pessoas empregam alguma forma de discurso (linguagem) para expressar suas visões de mundo, e que há lógica em todos esses casos, lógica cuja validade lógica é passível de análise e crítica; isto é, se tudo isso for levando em conta, o conhecimento pode ser “independente” da política, simplesmente porque antes de ser político, é lógico. Ora, há sentido em pensar uma “verdade injusta” ou em “números justos”? Os juízos de um discurso podem ser injustos, claro, mas a validade lógica dos enunciados desses juízos não depende de sentimentos morais, convicções políticas ou contextos culturais; e, se dependem, não dependem completamente. Eis o ponto.
Especialmente em nossos dias, conhecimento e política estão tão intimamente relacionados, a ponto de questões epistemológicas incorporarem integralmente questões políticas e vice-versa. Exemplos eloquentes disso são o que Mesaque e Freitas Pinto (2022, s/p) chamaram aqui de “novas perspectivas epistemológicas e metodológicas de produção do conhecimento, como os estudos descoloniais, as investigações anti-imperialistas, as pesquisas identitárias (como os movimentos feministas, LGBTQIA+, raciais, indígenas, etc.)”. Toda a questão é que estas “novas perspectivas” têm gerado excelentes e necessárias críticas sociais, mas também gigantescos equívocos epistemológicos. A crítica política é inteiramente genuína, e o pluralismo de perspectivas, inerente à multiplicidade de culturas, gêneros, religiões etc., é extremamente importante, todavia, é necessário preservar a possibilidade de investigação analítica rigorosa, o que apenas a lógica (não a política) fornece. A lógica luta contra a contradição, a política vive de contradições!
Assim, separar conhecimento e política (o que não necessariamente significa opô-los) se torna vital para garantir a objetividade do conhecimento em meio às variadas concepções existentes de mundo. E por que é importante garantir a objetividade? Porque, na verdade, só é possível garantir variadas concepções de mundo se a objetividade do conhecimento for mantida, caso contrário, a própria ideia de “concepções variadas de mundo” não passa de mais uma ideia relativista em face de tantas outras, sem, portanto, nenhum valor político efetivo e consistente. A análise rigorosa do pensamento deve ser livre, para que sejam livres as concepções de mundo; em outros termos, o conhecimento deve ser livre, para que seja livre a política.
Não parece desejável que existam, em sociedades democráticas, obstruções às tentativas analíticas de investigar os pressupostos formais do pensamento. Isso seria empecilho para o conhecimento. É preciso, pelo contrário, de um território livre, onde exista espaço para a reflexão lógica do conhecimento, independente e concomitante à política. Nesse caso, não é justamente a “separação” de conhecimento e política que pode garantir consistência e efetividade à crítica social?[4]
Referências
PLATÃO. Górgias. Tradução de Daniel R. N. Lopes. São Paulo, SP: Editora Perspectiva, 2011.
SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente. Tradução de Oswaldo Giacoia Junior e Gabriel Valladão Silva. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2019.
MARTINS, M. A.; PINTO, W. C. F. Epistemologia e política: relação necessária e (im)possível? Ermira Cultura, 20 ago. 2022. Disponível em: http://ermiracultura.com.br/2022/08/20/epistemologia-e-politica-relacao-necessaria-e-impossivel/.
ROCHA, Ronai. Escola partida: ética e política em sala de aula. São Paulo: Editora Contexto, 2020.
ROCHA, Ronai. Filosofia da educação. São Paulo: Editora Contexto, 2022.
ROCHA, Ronai. Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire. São Paulo: Contexto, 2017.
ROCHA, Ronai. Sentimentos de outono: sobre universidade e educação. – Santa Maria: Ed. da UFSM, 1997.
[1] Doutor, mestre e graduado (licenciatura plena) em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Participa do Grupo de Pesquisa Subjetividade, Filosofia e Psicanálise (UFMS) e do Grupo de Estudo e Pesquisa em hermenêutica de Paul Ricoeur (UFPI). E-mail: costavhr@gmail.com
[2] Professor do curso de Filosofia e da Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). E-mail: weiny.freitas@ufms.br.
[3] A palavra “transcendental”, amplamente utilizada na filosofia desde a publicação da Crítica da razão pura, de Immanuel Kant, em 1781, deve ser bem compreendida e, especialmente, não ser confundida com “transcendente”. Esta significa o que está “fora”, “além”, no mesmo sentido em que “Deus transcende sua Criação”. O termo “transcendental” se refere ao caráter formal e lógico das leis que estabelecem as condições de possibilidade de algo. Leitor de Kant, Schopenhauer entende que a lei da causalidade, que dispõe que todo efeito tem uma causa, é, nesse sentido, transcendental, ou seja, pressupõe a experiência e é condição de possibilidade dela. Em outras palavras, para que possamos reconhecer efeitos de causas, é necessário que nosso intelecto já seja estruturado de modo que toda experiência aparecerá encadeada em efeitos e causas que são efeitos de outras causas.
[4] Vale mencionar que vem surgindo, nos últimos anos, em língua portuguesa, uma obra que explora, de modo eventualmente mais franco e indireto, as relações entre o conhecimento e a política no nível do ensino. Trata-se da obra de Ronai Rocha, professor aposentado do departamento de filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Em 2017, o professor publicou Quando ninguém educa: questionando Paulo Freire. Em 2020, foi a vez de Escola partida: ética e política em sala de aula vir à luz. Acaba de ser lançado, esse ano, Filosofia da educação. Publicados todos pela Editora Contexto, os livros do professor Ronai Rocha exploram alguns tabus das discussões sobre ensino e aprendizagem. Seja recorrendo ao pensamento de Hannah Arendt, Max Weber ou sobre o que de melhor se produziu sobre psicologia do desenvolvimento infantil, o autor tem criticado algumas posições que compreendem a prática docente como algo que possui ou deveria possuir comprometimentos ideológicos sólidos. Para Ronai Rocha, há um valor incondicional e universal do conhecimento, anterior e substancialmente diferente dos conteúdos dos comprometimentos ideológicos. Sua obra tem a nítida intenção de, contra certa maré, elucidar (e, talvez, ser uma iniciativa de extinguir) certos prejuízos e certas consequências da ideia de educação demasiadamente vinculada com o domínio da “política”. Mesmo em seu Sentimentos de outono: sobre universidade e educação, de 1997, o autor já passava por temas como a excessiva politização da educação e as imagens de escola e universidade que daí se depreendem, temas que, 25 anos depois, permanecem tão atuais quanto antigamente.
O artigo é o oitavo da quarta edição da série Projeto Ensaios, um projeto de divulgação filosófica coordenado pelo professor Weiny César Freitas Pinto, do curso de Filosofia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em parceria com o site Ermira Cultura, que visa colocar em diálogo a produção acadêmica com a opinião pública por meio da publicação de ensaios. Confira os outros artigos publicados:
- Atenção! A sociedade contemporânea e a cultura do déficit de atenção, de Rafael Lopes Batista, Paula Mariana Rech e Marsiel Pacífico, em http://ermiracultura.com.br/2022/08/06/atencao-a-sociedade-contemporanea-e-a-cultura-do-deficit-de-atencao/
- A gratidão pela transmissão: uma homenagem ao professor Marcelo Fabri, de Vítor Hugo dos Reis Costa, em http://ermiracultura.com.br/2022/08/13/a-gratidao-pela-transmissao-um-agradecimento-ao-professor-marcelo-fabri/.
- Epistemologia e política: relação necessária e (impossível)?, de Alberto Mesaque Martins e Weiny César Freitas Pinto, disponível em http://ermiracultura.com.br/2022/08/20/epistemologia-e-politica-relacao-necessaria-e-impossivel/.
- Há filosofia nos recortes das redes sociais?, de Guilherme Baís do Valle Pereira e Vítor Hugo dos Reis Costa, disponível em http://ermiracultura.com.br/2022/08/27/ha-filosofia-nos-recortes-das-redes-sociais/.
- Sou uma fraude? Conhecendo o Fenômeno do Impostor, de Renata Tereza dos Passos Costa, Weiny César Freitas Pinto e Ana Karla Silva Soares, disponível em http://ermiracultura.com.br/2022/09/03/sou-uma-fraude-conhecendo-o-fenomeno-do-impostor/.
- A falta da falta, de Carlos Eduardo de Lucena Castro e Amanda Malerba, disponível em http://ermiracultura.com.br/2022/09/10/a-falta-da-falta/.
- Gradiva e a busca do ideal feminino, de Amanda Malerba, disponível em http://ermiracultura.com.br/2022/09/17/gradiva-e-a-busca-do-ideal-feminino/.