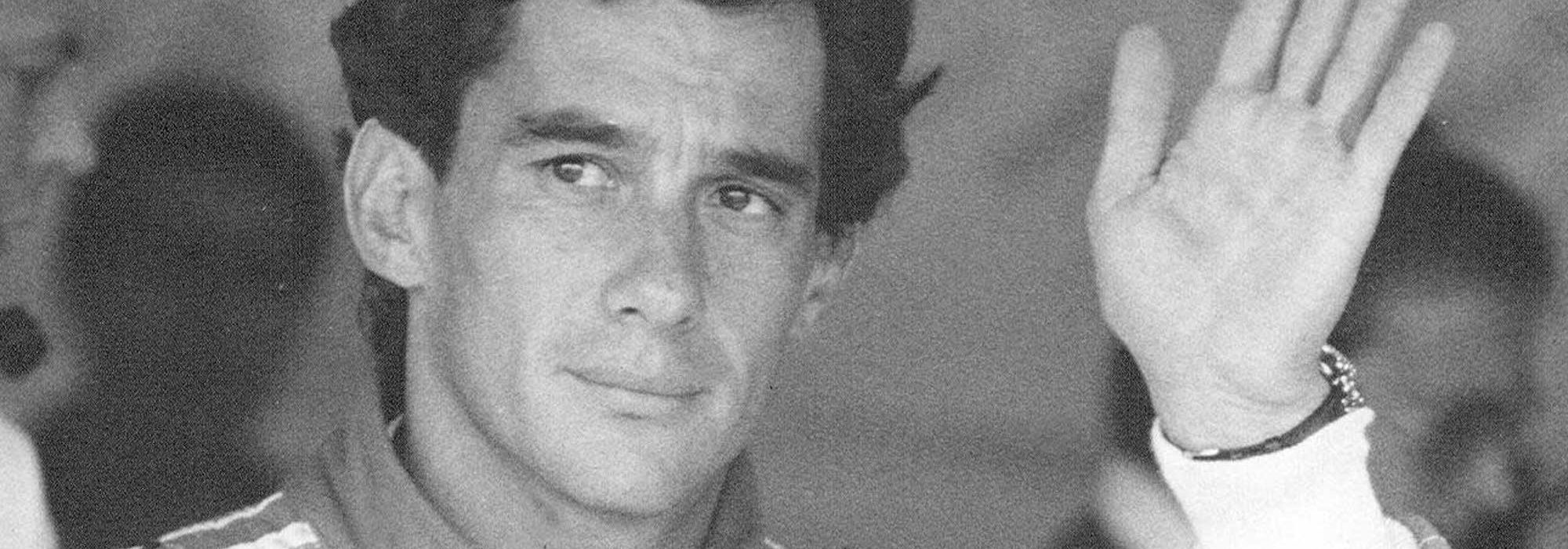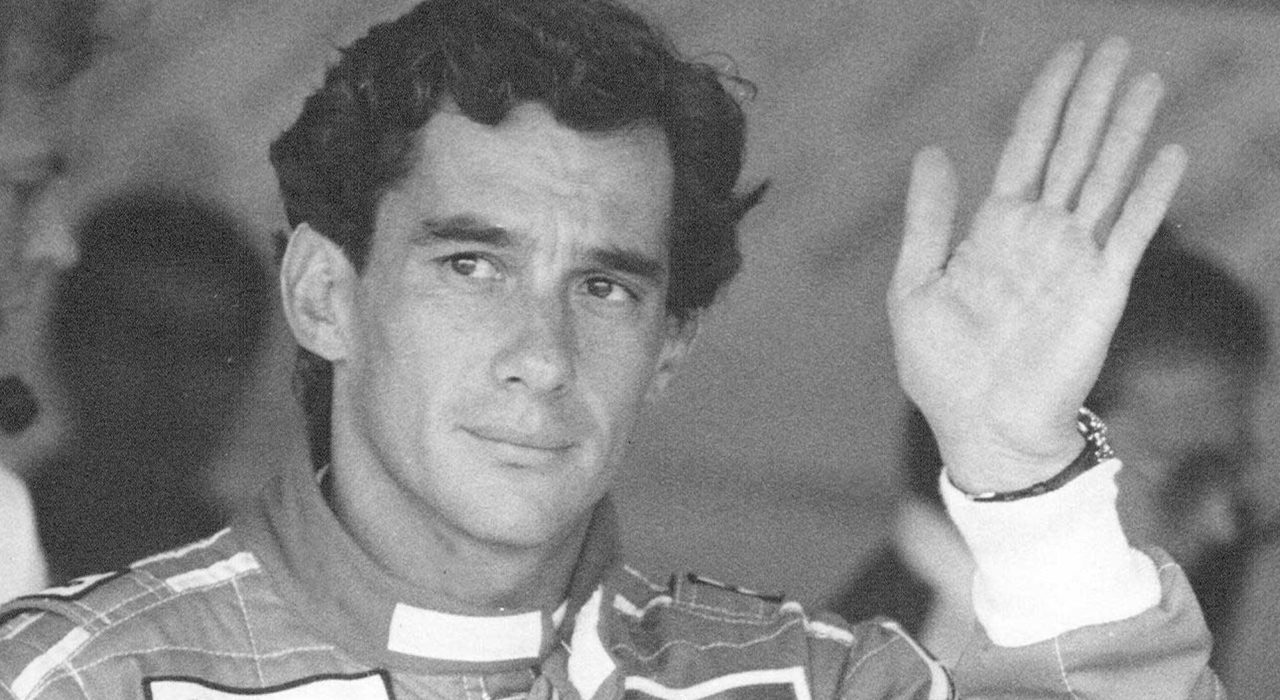Na curva Tamburello, no icônico circuito de Ímola, na Itália, um carro de Fórmula 1 não faz o contorno da pista e, em alta velocidade, choca-se contra um muro de concreto. Era para ser mais um domingo de corrida, como tantos e tantos outros, em que o público brasileiro que aprecia automobilismo acompanhava as conquistas, as vitórias, as derrotas, os acidentes, as disputas de pilotos como Nelson Piquet e Ayrton Senna. E estávamos acostumados a ganhar, não a perder. E nunca a perder o próprio ídolo.

Ayrton Senna em sua William destruída após o acidente: o ídolo morreu na frente do País / Imagem: Reprodução TV
Naquele domingo, 1º de maio de 1994, milhões de pessoas acordaram e ligaram na TV Globo, por volta das 9h da manhã. A entonação indefectível do narrador Galvão Bueno, espécie de voz oficial do esporte na TV, dava as primeiras informações. E elas não eram boas. Um dia antes, o piloto austríaco Roland Ratzenberger havia morrido durante um treino oficial para a corrida. E o piloto Rubens Barrichello também não correria devido a um grave acidente que sofrera dois dias antes e no qual se ferira.
O clima estava pesado e ficou ainda pior quando, na largada, outro grave acidente ocorreu. Carros se chocaram e a roda de um deles se soltou, voando por sobre a plateia e ferindo gravemente espectadores. Uma manhã trágica precedida por outras tragédias e que iria piorar quando a Williams de Senna, que liderava a prova após a relargada, bateu em uma das curvas mais perigosas entre todos os Grandes Prêmios de Fórmula 1 e que já vira acidentes com outros pilotos, como Piquet e Gerard Berger.
O resto da cena ainda está nítido na memória de quem acompanhava aquela transmissão, mesmo 25 anos depois. O carro volta para a pista, bastante danificado, com o piloto brasileiro dentro, inerte, a cabeça pendida. Poucos segundos depois, quando as equipes de resgate já tentam prestar os primeiros socorros, um leve movimento de Senna deu alguma esperança de que ele sobreviveria, mas na verdade era, possivelmente, um de seus últimos suspiros. Era o fim de uma era.

Seleção Brasileira tetracampeã em 1994: alento para a torcida após a tragédia. / Imagem: CBF
Os domingos não seriam mais os mesmos, a Fórmula 1, traumatizada, perdeu quase toda a graça, sobretudo para os brasileiros, e o País teve na comoção em torno do desaparecimento de um de seus heróis uma espécie de emblema de que tudo estava mudando. Aquele 1994 inaugurara uma série de novidades para um mundo em transe, para um Brasil em pleno movimento. Além do tetracampeonato de futebol que ganharíamos dois meses após a tragédia com Senna, mais estava por vir.
Em julho daquele ano, um ousado plano econômico, que mudava a moeda nacional e alçava um sociólogo a um improvável protagonismo político em um governo-tampão de um presidente chamado a ocupar o cargo após o titular ser retirado do Planalto, foi lançado. Será que, finalmente, depois de décadas de bagunça econômica, venceríamos o “dragão” da inflação, estabilizaríamos a moeda, viveríamos em um país racional? O Plano Real e seu artífice, Fernando Henrique Cardoso, prometiam que sim.

Fernando Henrique Cardoso lança o Plano Real: rumo à Presidência. / Imagem: Eraldo Peres/PSDB.
Fechávamos mais um ciclo, com o início não só de uma rotina economicamente mais previsível – sem inflação com vários dígitos ao ano – e a possibilidade de implantação de algumas políticas sociais. O que era praxe em outros lugares, era novidade para nós. Depois do trauma da eleição de Fernando Collor, FHC e Lula disputavam uma eleição em que não se temia o fim da democracia, mas escolhia-se os rumos que ela tomaria, os modelos econômicos que seriam implementados.
Também foi a época da chegada, ainda que tímida, de novas tecnologias que, nos 25 anos seguintes, mudariam nossa forma de ver e interagir com o mundo e as pessoas. Os celulares eram do tamanho de tijolos – daí o apelido de tijorolas – e uma rede de comunicação, discada e lenta naquele momento, fazia seus experimentos iniciais por aqui. A internet estrearia oficialmente no ano seguinte, com os primeiros portais de notícias e ferramentas de comunicação, mas ela já estava entre nós.

Computadores dos anos 1990, os primeiros a ter internet no Brasil: avanços estavam só começando
Desde a morte de Senna, num 1º de maio 25 anos atrás, outro piloto igual a ele não surgiu. Continuamos órfãos de um talento sem igual dentro de um carro de corrida, que levava nossa bandeira aos pontos mais altos do pódio. Estávamos acostumados a não termos esse tipo de hiato. Desde os anos 1970, sempre geramos campeões. Primeiro com Emerson Fittipaldi, depois com Nelson Piquet, enfim com Senna. Há um quarto de século, convivemos com essa tristeza e essa lacuna. Mas não só com elas.
O Brasil avançou economicamente, diminuiu sensivelmente taxas de pobreza, analfabetismo, mortalidade infantil e materna, viu sua classe média aumentar. Graças a políticas econômicas e sociais que, por 20 anos, focaram em objetivos louváveis, melhoramos em vários aspectos, mas degringolamos em tantos outros. A violência urbana explodiu, facções criminosas ganharam força e as engrenagens políticas, já desgastadas, se corromperam de vez. E agora temos muito com que nos preocupar.
Estamos órfãos de um ídolo como Senna no esporte e também de lideranças políticas decentes e verdadeiramente democráticas. Nos últimos seis anos, recuamos muito e a marcha à ré continua. A esperança diminui em um presidente que não oculta seus preconceitos, seus pensamentos mais insanos, sua ausência de apreço por quem precisa ser protegido e estimulado. Com um discurso de ódio e de confronto, ele e seus apoiadores se esmeram em nos fazer ter vontade de um passado perdido.
E o irônico disso é que as tecnologias que surgiam incipientemente no momento em que Senna deixava um vazio nas manhãs de domingo ajudam, agora, a minar nosso diálogo, a derrubar pontes – como aquele compromisso de ver o Brasil ganhar nas pistas, quando a bandeira nacional representava todos nós e não apenas um grupo que dela se apoderou –, a não nos deixar compartilhar nem as alegrias e nem as tristezas. Tudo agora é arma de agressão e provocação. Definitivamente, tudo mudou.