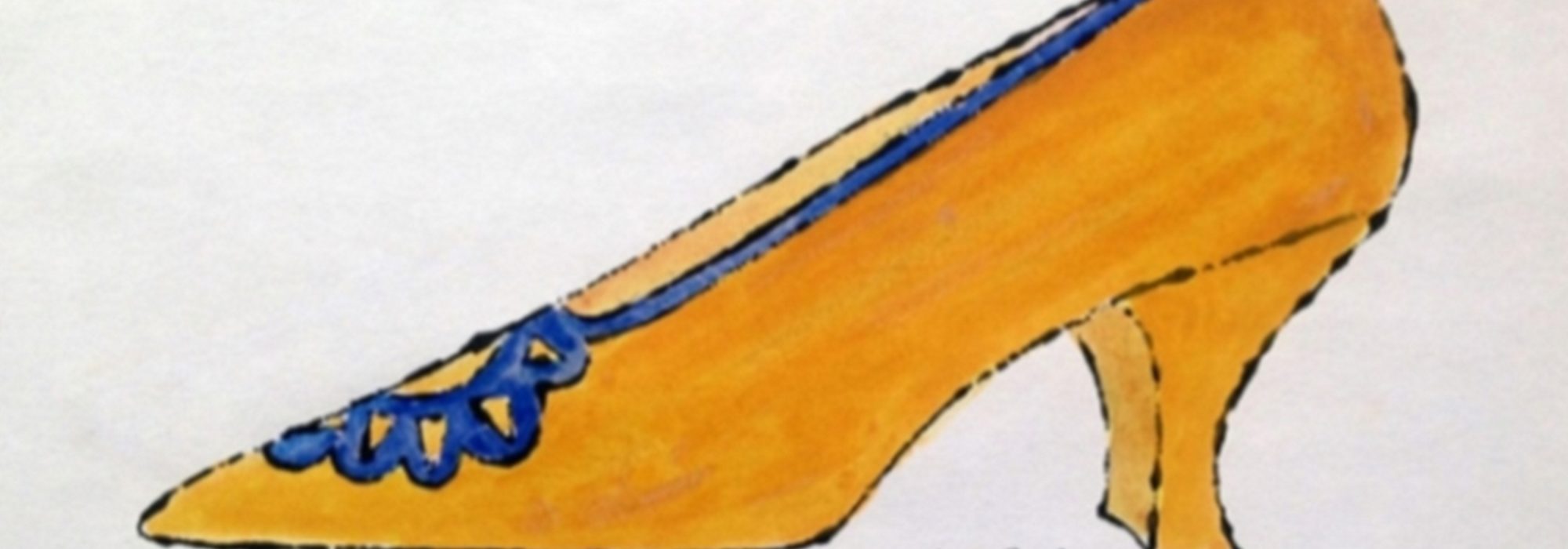Naquela tarde de novembro, num dia mortiço e sem graça, excessivamente quente e arrastado, para o qual nem mesmo um poeta de academia dedicaria um soneto vagabundo, a minha secretária abriu subitamente a porta e anunciou:
“A senhora Glória deseja uma audiência…”
Como eu estava concentrado no exame de pormenores de um dossiê, perguntei pra confirmar, sem atinar-me direito à informação:
“Glória? Quem é Glória? Esse nome tá na agenda?”
Antes que a secretária respondesse, não só uma voz imponente, mas também um corpo descomunal intrometeram-se na sala.
“Glória Vespúcio é o meu nome, doutor!” – respondeu a própria, terminando de invadir a sala e despejar com vontade o seu corpanzil numa poltrona vintage, um móvel italiano de couro que havia herdado do meu pai e sobre o qual ele sempre me advertira:
“Nessa poltrona, meu filho, só devem sentar pessoas que tenham simplicidade no coração.”
Aquela tarde, quem sabe, poderia tornar-se divertida – uma tarde que geralmente prometia a bosta de sempre: a leitura de papéis escritos com a costumeira e enfadonha garatuja forense. Sem mais nem menos, eis que surge esse caso. Fiquei alguns minutos olhando para a mulher, matutando o que poderia vir em seguida.
Com cara de enfado, a secretária, que já estava acostumada com entreveros, fechou a porta. Eu mal ouvi o estalido da fechadura.
Por se tratar de uma dama, não quis lembrá-la das regras que ela tinha esquecido e, principalmente, de que tinha uma agenda repleta de compromissos para aquela tarde. Logo mais, uma reunião na vara de reconciliações me esperava para tratar de um processo complexo.
Glória Vespúcio… De onde me lembrava desse nome? Como se lesse pensamentos, ela se apresentou:
“Eu sou Glória Vespúcio, a antiga cafetina da rua da Alfândega. Cometi o erro de me envolver com o vereador Rosado e agora o maldito vive me extorquindo. Além disso, ele me bate toda vez que me recuso a lhe dar dinheiro. Se o senhor é mesmo o famoso doutor Evaristo, deve me ajudar. Não aguento mais…”
Após a queixa, indicando sintomas de estresse, começou a chorar, ao mesmo tempo em que tirava da bolsa um lencinho bem dobrado e levava-o ao nariz, a cabeça abaixada, os soluços sacudindo-a. Não era uma cena de partir o coração, mas dava o que pensar.
Para me desfazer logo daquele imbróglio, que me causava desgosto e constrangimento, procurei explicar-lhe com profissionalismo, ao mesmo tempo em que vigiava os ponteiros do relógio:
“Minha senhora, acho que houve um engano de sua parte. Não sou eu quem deve cuidar do seu caso. A senhora tem de ir à delegacia e fazer uma queixa formal. Posso, inclusive, indicar um advogado, se for de seu interesse. Essa história é da competência policial.”
Ela se aprumou e emitiu um pequeno grito quando escutou a palavra “policial” – e falou em seguida, quase aos berros, totalmente apavorada, beirando o descontrole:
“O desgraçado disse que mandaria alguém me matar se eu fizesse denúncia dos maus-tratos que venho sofrendo há tanto tempo…”
E calou-se de repente, pendendo a cabeça para o lado, como se uma força invisível a tivesse desligado no modo “dormir”.
Perplexo com aquela rara situação, chamei a secretária, levantei-me e fui acudi-la. Ao tocá-la, senti um estremecimento: ela estava morta – mortíssima.
A queixosa dama, que há pouco invadira o meu escritório, era agora uma senhora defunta.
A secretária entrou aturdida na sala e pedi-lhe para chamar uma ambulância.
Voltei para a minha mesa, sentei-me de novo e fiquei examinando a mulher, o seu grande corpo escorregando-se ao poucos da poltrona favorita do meu pai.
Sim, aquele dia estava sendo mesmo mortiço e sem graça.