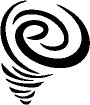Tessa Moura Lacerda é professora de Filosofia da USP, conhecida por suas pesquisas sobre Leibniz e a Filosofia Moderna e pelas questões de gênero pensadas sob a perspectiva filosófica. Tessa é também filha de Mariluce de Souza Moura e de Gildo Macedo Lacerda. Essa filiação não é apenas um aspecto da sua vida privada, mas está estreitamente imbricada com os terríveis acontecimentos da história brasileira recente. A trajetória da pesquisadora guarda uma triste semelhança com a da família do deputado Rubens Paiva e de sua mulher, a advogada Eunice Paiva, narrada no filme Ainda estou aqui e que tem comovido as plateias do Brasil e do mundo afora.
Em 1973, o pai e a mãe de Tessa foram presos por agentes da ditadura militar. Gildo, um militante político de esquerda de 24 anos, foi assassinado nos porões da repressão. Mariluce, jornalista, só soube da morte do marido cerca de um mês depois, ainda no cárcere, onde também foi vítima de tortura, mesmo estando grávida de Tessa. A filha do casal, portanto, sequer teve a chance de conhecer o pai. O corpo jamais foi devolvido à família, e o Estado brasileiro só reconheceu a responsabilidade pela morte de Gildo Macedo Lacerda 23 anos depois.
Como lidar com essa ausência? Como resistir às tentativas de apagamento desse passado de trevas que muitos ainda insistem em negar? “Lembrar o passado é, de algum modo, agir sobre o presente”, afirma Tessa Moura Lacerda em Pela memória de um paí[s]: Gildo Macedo Lacerda, presente! (Aretê Editora), livro em que ela, a partir da sua história pessoal, empreende uma reflexão filosófica sobre a memória para não apenas deixar cair no esquecimento a luta daqueles que resistiram contra a ditadura, mas para buscar compreender a permanência da sua herança de violência no presente.
Nascido em Ituiutaba (MG), no dia 8 de julho de 1949, Gildo Macedo Lacerda ingressou no movimento estudantil ainda na adolescência. Já como membro da Ação Popular (AP), iniciou em 1968 o curso de Economia na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde continuou a militância como líder estudantil no DCE, sendo um dos delegados no famoso Congresso da UNE em Ibiúna (SP), quando todos os participantes foram presos por policiais militares e agentes do Dops. Libertado, Gildo retomou suas atividades políticas e foi eleito vice-presidente da UNE na gestão do goiano Honestino Guimarães, que também viria a ser preso e assassinado por forças da repressão no início da década de 1970. Por conta do Decreto 477 da ditadura, Gildo teve cassado o seu direito de estudar e foi obrigado a viver na clandestinidade, primeiro em São Paulo, depois no Rio de Janeiro e, por fim, em Salvador, onde conheceria, em 1972, a jornalista Mariluce, também militante da AP, então com 21 anos.
Após três meses de namoro, os dois casaram-se, “completamente apaixonados”, como descreve Tessa. Sob um falso nome, Gildo estava trabalhando e, esperançoso com a possibilidade de um aumento de salário, contava visitar os pais em Uberaba. Seus planos, no entanto, foram brutalmente interrompidos com sua captura ao sair de casa em 22 de outubro de 1973. Dias depois – provavelmente a 28 de outubro, conforme sua filha registra no livro –, ele seria morto sob tortura.
A respeito da figura paterna, Tessa se vale das lembranças da mãe, segundo quem ele era um “homem belíssimo, generoso, carinhoso”. E transcreve um trecho de A revolta das vísceras, romance que Mariluce publicou em 1982, inspirado na sua trajetória, no qual ela rememora: “Ah, sua voz… era uma voz tão bela, tão grave, quente, apaixonante de timbre quanto a figura inteira. Eu estava besta, fui me embalando na voz, só na voz, já não percebia nenhum significado, não escutava nenhuma palavra, nenhuma frase fazia sentido, só o som da voz e seu calor”. Mas esse rosto belo, esses gestos e expressões de generosidade e carinho, essa voz tão cativante evocados pela mãe permaneceriam estranhos e desconhecidos para a filha. Um vazio que, de certa forma, impregnou seu próprio corpo – na forma das “ausências” que, quando menina, Tessa frequentemente experimentava. Essa lacuna, ela procurou preencher com a palavra.
“Talvez seja por meio dessa não memória, dessas não lembranças, dessas lacunas e desses vazios que eu possa cumprir a necessidade imperiosa de dar um enterro digno ao me pai. A lápide será a palavra”, escreve a autora. A narrativa tecida por Tessa reconstrói e homenageia a trajetória do seu pai também rememorando o trabalho fundamental da Comissão da Verdade, denunciando o legado de violência deixado pela ditadura na forma do extermínio diário de pessoas pobres e negras pelas forças policiais do Estado, refletindo sobre o significado da justiça à luz da tragédia de Antígona e do pensamento de Platão, Maquiavel, Espinoza, e da liberdade com base na filosofia de Leibniz.
Se a palavra de Tessa é de perda, de dor, de lamento, também é uma palavra de combate, uma palavra eficaz, como sublinha Marilena Chaui no prefácio da obra, que “age sobre nosso presente graças ao nosso conhecimento de um passado que parece nunca findar e que só findará graças à nossa ação”. E falar, ainda citando Chaui, é o “início da ação”.