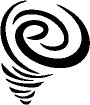Resultado de uma ampla pesquisa envolvendo diversas áreas do conhecimento, o livro Morrer em Público: Sensacionalismo, Fetichização e Sadismo em Coberturas Jornalísticas de Tragédias e Falecimentos de Pessoas Notórias em Portugal e no Brasil, de Rogério Borges, tem lançamento marcado para esta terça-feira, dia 27 de maio, às 18 horas, na Livraria Palavrear. Publicada pela editora Insular, a obra é fruto da investigação do jornalista, pesquisador e professor do curso de Comunicação da PUC-GO durante o seu pós-doutorado realizado de 2022 a 2023 na Universidade Fernando Pessoa, em Porto, Portugal, sob a supervisão do professor Jorge Pedro Sousa, que assina o prefácio do livro. Em entrevista a Ermira Cultura, Rogério Borges comenta a respeito do seu novo trabalho, as motivações que o levaram a investigar o tema, as diferenças e proximidades da mídia brasileira e portuguesa na cobertura dessas questões e os dilemas éticos que envolvem a abordagem jornalística do sofrimento humano. Confira.
O que motivou você a investigar o sensacionalismo e a fetichização na cobertura jornalística de tragédias e mortes de celebridades?
Antes da pandemia, eu desenvolvi na PUC Goiás um projeto de pesquisa sobre biografias e autobiografias, que gerou o livro Contar para Viver, lançado dois anos atrás. A biografia é a escrita da vida, que tem um começo, um decorrer e um fim. Este fim é algo misterioso, que suscita sentimentos ambivalentes, como fascínio, medo, repulsa e atração ao mesmo tempo. A morte é algo onipresente em nossa vida, dando sentido a ela, no final das contas. A perspectiva da finitude nos faz viver da forma que conseguimos no sentido de aproveitar, de fazer valer o tempo finito que temos. Quando veio a pandemia de Covid-19, a morte ampliou-se em nosso cotidiano. Mais que presente, ela estava muito próxima, afetando nossas famílias, nossos colegas de trabalho, nossos amigos com uma frequência muito maior que o normal. E isso dominava a mídia dia e noite. Foi quando propus outro projeto de pesquisa na PUC, chamado O Jornalismo Diante da Morte, parafraseando a obra canônica do historiador francês Philippe Ariès, O Homem Diante da Morte. A proposta era contemplar a questão da morte a partir de como ela é tratada pelos veículos de comunicação, mas ampliando o debate para outros campos de conhecimento, de forma interdisciplinar.
Como se deu a intersecção na sua pesquisa de diferentes campos do saber — como a Antropologia, os Estudos Literários, a História, a Filosofia, a Psicologia e a Comunicação — para compreender a representação midiática do luto e da dor coletiva? Você poderia citar algumas obras ou autores que o ajudaram a pensar sobre esse tema?
Acho que nenhum campo de conhecimento é isolado em si mesmo. Acredito muito nessa troca de visões, na interdisciplinaridade que possa contribuir nas reflexões de cada disciplina, sem que nenhuma delas precise abrir mão de suas especificidades. Creio nessa complementaridade. Como pesquisador que sou, é essa troca que mais me fascina e vejo que há essa tradição, sobretudo nos pensadores europeus. Eles fazem essas junções muito bem, debatem, discordam, concordam e no final entregam obras fascinantes. Para essa pesquisa, como disse, foi o historiador Philippe Ariès, com seu O Homem Diante da Morte. É uma obra espetacular sobre como o fim da vida foi tratado ao longo do tempo. Na mesma direção temos O Homem e a Morte, de Edgar Morin, que entrega uma abordagem também antropológica, sobre ritos e significados da morte, dos cadáveres e até do luto. Outros autores dessas áreas foram relevantes na pesquisa, como Michel Vovelle (Mourir Autrefois), Vladimir Jankélévitch (La Mort), Anne-Marie Tillier (L’homme et la mort), entre muitos outros. Um autor importante na Filosofia foi o sul-coreano Byung-Chul Han, com livros como Morte e Alteridade e Os Rostos da Morte. Ele fez carreira na Alemanha e me ajudou muito a tratar da questão sob a perspectiva teórica de autores fundamentais nessa questão, como Martin Heidegger e Emmanuel Lévinas. Albert Camus também está presente, com Morte Feliz e O Homem Revoltado, assim como autores que trazem uma visão mais pessimista do tema (Émil Cioran, Slavoj Zizek, por exemplo), e, claro, clássicos como Platão e Plutarco. Na Psicologia, tratei textos canônicos de Freud, Melaine Klein, Lacan, Jung (com suas diferentes visões), Sabina Spielrein, entre outros. Nesse ponto há uma interface também com as teorias sobre sexualidade e com autores que exploram essa relação um tanto perturbadora entre morte e erotismo, como Georges Bataille e Pierre Klossowski, comentadores da obra do Marquês de Sade, escritor considerado maldito que promove uma junção que não raramente conseguimos perceber também em certa espetacularização da morte pela mídia. Aliás, essa é uma das questões centrais do trabalho. Na Sociologia, autores como Emilie Durkheim (sobretudo em seu debate sobre suicídio), assim como George Minois e até Karl Marx, foram muito importantes. A lista é grande e ainda inclui autores como Michel Foucault, Susan Sontag, Jean Baudrillard, não deixando de contemplar autores também que escreveram sobre o campo da Comunicação (como o debate sobre fotojornalismo trazido por Jorge Pedro Sousa, Susan Sontag e Jacques Rancière, por exemplo) e até da Medicina, caso de Elizabeth Kübler-Ross, com o já clássico Sobre a Morte e o Morrer. Autores de ficção também foram trazidos para o debate, como Tolstói, Flaubert, Machado de Assis. Digamos que é um livro bem eclético no qual tentei construir uma liga que pudesse nos levar às reflexões propostas.
O seu trabalho abrange um longo período de tempo, do final do século XIX ao início dos anos 2000. Quais foram as principais mudanças que você verificou na abordagem jornalística envolvendo os tipos de eventos que você discute como acidentes, naufrágios, desastres ambientais, mortes de pessoas famosas etc.? O nível de sensacionalismo aumentou ao longo das décadas?
Esse é um dos resultados mais interessantes da pesquisa. Quando a imprensa não era tão audiovisual, no final do século XIX e nas primeiras décadas do XX, o sensacionalismo era menor em razão da linguagem vigente e pela ausência das condições técnicas de mostrar imagens nítidas desses acontecimentos. Ainda que o fotojornalismo já explorasse essa seara desde meados do século XIX, como comprovam os estudos sobre coberturas das guerras da Crimeia ou da Guerra de Secessão, nos EUA, a tecnologia ainda não estava tão disponível assim. As agências de notícias eram poucas e relativamente caras. As coberturas das mortes de Eça de Queiroz (1900) e Machado de Assis (1908) mostram um grande respeito por essas figuras, ainda que a cobertura do incêndio no Teatro Baquet, no Porto, em 1888, traga descrições horripilantes sobre o estado dos corpos das vítimas. Quando a imagem entra com mais força, aí há uma explosão do sensacionalismo, sobretudo por conta das imagens. Nem Portugal nem o Brasil tiveram um Código de Ética para a atividade jornalística em boa parte do século XX e acredito que isso também tenha favorecido posturas muito contestáveis. No incêndio do Edifício Joelma, em 1974, por exemplo, os jornais não hesitaram em expor corpos caindo do prédio, muitas vezes transmitindo essas mortes ao vivo. Ao falar dos cadáveres no interior do edifício, há um exagero quase sádico nas descrições, detalhadas e praticamente escatológicas. Algo parecido ocorre na maior parte dos acontecimentos de grandes tragédias no Brasil e Portugal no decorrer do século XX e início do século XXI, como no caso do incêndio do Pedrogão Grande, em 2017. Mas mesmo que ainda seja uma cobertura excessivamente mórbida, já há alguns cuidados, como não mostrar os mortos sem algum tipo de cobertura (um lençol, um plástico) e não entrar em detalhes tão, digamos, biológicos sobre o estado dos corpos. Parece haver um pouco mais de freio nas coberturas mais recentes, ainda que elas não estejam livres dos mesmos problemas de antes. Já quanto às celebridades, há uma curiosidade sobre os corpos. Antes, porém, como no caso do ditador António Salazar, que foi amplamente fotografado em seu leito de morte, essa revelação do cadáver dá-se, comumente, nos velórios. Mas ainda assim, é uma exposição bastante explícita, como podemos ver na cobertura das mortes de Amália Rodrigues, Eusébio, Carlos Drummond de Andrade e José Saramago.
Do ponto de vista jornalístico, há diferenças marcantes entre o tratamento da imprensa brasileira e o da portuguesa no que diz respeito a esses fatos?
Quando comecei as pesquisas, acreditei que encontraria essas diferenças bem pronunciadas. Elas existem, mas não são tão grandes assim. Elas estão mais na linguagem – em Portugal, há um formalismo maior com a língua e isso se reflete em algumas descrições feitas pelos jornais de lá – e, em alguns casos, na intensidade. Na intencionalidade de atrair atenção para o público para esse final da vida trágico, entretanto, as duas tradições convergem bastante, infelizmente. No caso de Portugal, a morte de Salazar e as grandes enchentes de Lisboa, em 1967, tiveram a censura prévia que existia sobre a imprensa do país, um elemento que deve ser considerado. Nos dois países há uma certa propensão ao drama, porém. Às vezes os próprios fatos levam a isso, como na agonia e morte de Tancredo Neves. Em outras, cria-se um cenário para que essa característica seja enfatizada. Uma das estratégias é reiterar à exaustão a tragédia. Talvez não por mera coincidência, a obra de autores que trabalham com a junção entre Eros e Tânatos, como o Marques de Sade, usam o mesmo método para criar sensações intensas no público.
Na sua opinião, quais são os principais dilemas éticos na cobertura midiática desses eventos?
Certamente o respeito (ou a falta dele) em relação a quem morre e à sua família enlutada. Tudo tem o potencial de virar um circo, um espetáculo. É como se repetissem essa dor ao máximo não exatamente para informar, algo que pode ser feito sem recorrer a tais estratagemas, mas para criar sensações que segurem um interesse comovido pelo tema. Fazer isso é faltar com a ética porque é faltar com a humanidade em relação às perdas ali sofridas. A morte não deveria ser um espetáculo em nenhuma circunstância. Em vários episódios, a mídia passa a impressão de ser a nova arena da morte pública, como foram os coliseus romanos ou as forcas e guilhotinas postas para funcionar na praça principal das cidades europeias. Ver alguém morrer ou morto passa a ser uma atração, um entretenimento e isso não pode estar certo.
Dentre as coberturas jornalísticas sobre tragédias e mortes que você destaca no livro, tanto aqui quanto em Portugal, quais foram as que mais chamaram a sua atenção pelo grau de espetacularização?
Em Portugal, como citei anteriormente, uma das coberturas que mais incorreram nesse problema foi a do incêndio no Teatro Baquet, no Porto, em 1888. Vejo isso sobretudo pela forma como se descreve, por exemplo, como os cadáveres foram encontrados nos destroços, incluindo crianças. Outros exemplos de lá foram as coberturas de grandes desastres ferroviários, como o de Custoias, em 1964, e de Alcafache, em 1985. Na pressa por noticiar, números completamente fantasiosos de vítimas foram divulgados e quando a dimensão da tragédia revela-se menor do que inicialmente pensado, há quase um anticlímax, uma espécie de decepção por parte de alguns veículos. Fora as descrições absolutamente bizarras de como os corpos foram despedaçados, calcinados e há até fotos bem explícitas de corpos sendo içados no meio das ferragens. No Brasil, eu destacaria o incêndio do Edifício Joelma, em 1974, com cenas de pessoas desesperadas pulando de andares altos para fugir do fogo, e ainda o naufrágio do Bateau Mouche, no réveillon de 1989. Esse caso específico uniu as duas questões estudadas: tragédia coletiva e morte de celebridade, uma vez que uma das vítimas foi a atriz Yara Amaral. A cobertura foi terrível, com fotos de resgate dos corpos na água, inclusive o da atriz, que é mostrada sendo içada e depois depositada em um píer. Nesses momentos, até mesmo as partes íntimas dos mortos não são preservadas, quando não descritas em detalhes. Inacreditável.
Por que você considera que a exposição da morte e da dor pode se tornar uma forma de “fruição informativa” e quais são os riscos disso para o jornalismo?
Diferentes disciplinas, com diferentes métodos e visões teóricas, abordaram nossa propensão à morte, algo que existiria atavicamente em nosso âmago, em níveis diferentes de controle. Outros comportamentos como o sadismo também já foram amplamente descritos. E o que se percebe é que essas questões se revelam em muitos momentos, ainda que não ganhem esse nome. É interessante pensar que autores como o Marquês de Sade e o conde Leopold von Sacher-Masoch, que nomearam as preferências, fantasias e até parafilias que unem morte e sofrimento ao prazer, são apenas os que mais explicitaram essa convergência entre o fim da vida e as satisfações que podem trazer, algo que está presente em toda a história de nossas produções simbólicas, incluindo aí ritos, obras de arte, narrativas ancestrais ou modernas. Acredito que o jornalismo se insere nessa dinâmica, não inventando-a, mas a explorando em seu proveito. Testemunhar a morte traz algum tipo de satisfação, consciente ou não. Para alguns antropólogos, seria uma forma de nos sentirmos temporariamente vitoriosos sobre ela. É como uma prova de sobrevivência nossa, uma vez que as pessoas que morreram não tiveram a mesma sorte. De diferentes maneiras, há algum tipo de fruição, de aferição de uma satisfação que pode ser mórbida ou de naturezas mais inconfessáveis.
Em que medida você acredita que o seu trabalho possa contribuir para o debate sobre práticas jornalísticas mais éticas e empáticas diante do sofrimento das pessoas, ainda mais nesse momento em que a imprensa enfrenta uma grave crise de credibilidade, com o advento das redes sociais e das fake news?
A imprensa não precisa ser perfeita, mas necessita ser honesta e humana. Se ela perder isso, perde tudo, uma vez que sua credibilidade se baseia no seu compromisso em informar com ética. Quando não respeitamos os mortos e suas famílias em nome de um sensacionalismo que existe para atrair audiências e superar concorrências, não estamos cumprindo nosso papel. Espero que o livro possa trazer reflexões sobre essas práticas, sobretudo quando há a pressão nas coberturas de grandes catástrofes ou da morte de pessoas notórias, momentos nos quais o tempo fica escasso e as pressões se avolumam. Se quisermos ter um papel relevante e de referência, temos que aprimorar nossos protocolos, nossa posição diante das pessoas e nossa responsabilidade social. Nos momentos trágicos, isso é ainda mais necessário.
Serviço
Lançamento do livro: Morrer em Público: Sensacionalismo, Fetichização e Sadismo em Coberturas Jornalísticas de Tragédias e Falecimentos de Pessoas Notórias em Portugal e no Brasil, de Rogério Borges
Data: terça-feira, 27 de maio
Horário: 18h às 20h30
Local: Livraria Palavrear – Rua 232, Nº 338, Setor Universitário
Ficha técnica
Livro: Morrer em Público: Sensacionalismo, Fetichização e Sadismo em Coberturas Jornalísticas de Tragédias e Falecimentos de Pessoas Notórias em Portugal e no Brasil
Autor: Rogério Borges
Editora: Insular
Páginas: 692