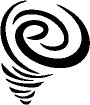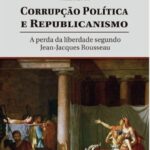Tema onipresente na vida pública nacional, a corrupção é objeto de uma análise original no livro Corrupção política e republicanismo – a perda da liberdade segundo Jean-Jacques Rousseau, do pesquisador e professor Vital Alves. Na obra, que é fruto do seu doutorado em Filosofia, Vital apresenta um amplo panorama de como a corrupção foi tratada na tradição republicana, por autores como Cícero, Maquiavel e Montesquieu, tornando-se também um tema central na obra do filósofo genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). E também mostra que a corrupção é pensada por esses autores como algo muito mais pernicioso que a apropriação indevida de recursos públicos: ela é concebida como uma ameaça à própria liberdade dos cidadãos, o que faz com que o regime mais corrupto de todos seja o despotismo. Vital Alves é doutor pela UFG, com estágio de doutorado-sanduíche na Université Montpellier II, na França, tem vários artigos publicados sobre ética e filosofia política e também é colaborador de Ermira Cultura. Confira a seguir a entrevista que ele concedeu, por e-mail, sobre o seu livro recém-lançado.
Na apresentação do seu livro, você parafraseia Marx ao dizer que um espectro ronda a república desde sua aurora, que é o perigo da corrupção política. Em linhas gerais, como esse tema é tratado na tradição republicana?
Quando parafraseio Marx o meu intuito é demonstrar que a corrupção é um perigo iminente para a República e que tende a ser devastadora para o regime republicano. Na tradição republicana, a corrupção é tratada como um problema grave e implacável para a República. A presença desse tema pode ser verificada nas reflexões de diversos pensadores de diferentes matrizes do republicanismo, por exemplo, pode ser encontrada nas análises de Cícero, expoente da matriz romana, pode ser lida nas investigações inovadoras de Maquiavel, expoente da matriz italiana, e, igualmente, atestada nos escritos contundentes de Sidney, pensador da matriz republicana inglesa.
Muitos intérpretes de Rousseau filiam-no à tradição republicana pela ênfase que ele confere à liberdade política em sua obra, mas a sua opção foi fazer essa associação de Rousseau com o republicanismo por meio do tema da corrupção política. O que fundamenta essa sua opção?
Habitualmente os intérpretes de Rousseau o filiam à tradição republicana pela via da liberdade política ou pelas imagens da Antiguidade presente em sua obra. Também existem trabalhos que realizam essa filiação por meio da noção de virtude cívica. São caminhos que me parecem bastante coerentes, mas não esgotam as possibilidades de outros percursos teóricos. Nas minhas leituras iniciais sobre a presença da liberdade política no pensamento de Rousseau dois aspectos me chamaram atenção imediatamente: primeiro, o fato de que a liberdade política se inscreve como um fundamento alicerçador do regime republicano; segundo, a percepção de que a corrupção representava um perigo direto para essa liberdade, isto é, a corrupção viola a liberdade, ela faz com que os cidadãos percam a liberdade. A perda da liberdade tem como desdobramento a aniquilação da república. Desse modo, a opção por vincular Rousseau à tradição republicana pela via da corrupção surgiu como um itinerário possível (talvez original), mas inverso ao habitual. A fixação desse itinerário me possibilitou abrir um horizonte para que eu pudesse analisar não só as prováveis causas da corrupção, mas a sua consequência mais nefasta, isto é, a perda da liberdade.
“O despotismo, segundo Montesquieu, é o regime político mais corrupto de todos“
Na atualidade, a corrupção política sempre aparece como sinônimo de desvio de recursos públicos. No seu livro, no entanto, você recupera outro sentido da palavra corrupção no campo da política, extraído da tradição republicana, que vincula a corrupção à perda da liberdade. Sendo assim, o despotismo, a tirania, seria a pior forma de corrupção. De que forma conceber a corrupção por esse viés nos ajuda a compreender melhor o momento político turbulento em que vivemos?
O despotismo, segundo Montesquieu, é o regime político mais corrupto de todos. Aliás, é indigno de ser chamado de “regime político”, pois é completamente corrompido. No meu livro, busco analisar o problema da corrupção no campo da política mediante um olhar mais amplo sobre o fenômeno em si. Penso que estamos “acostumados” a ver o problema da corrupção meramente como desvio de recursos públicos. Entretanto, compreendo que essa visão reduz a gravidade do problema. Certamente o desvio de recursos públicos é uma forma de corrupção. Isso é inegável! A corrupção vista como desvio de dinheiro público dilacera vidas. Mas a corrupção é um problema muito mais amplo. Nesse sentido, a tradição republicana nos convida a alargar os nossos horizontes e entendimentos sobre o problema da corrupção. Essa tradição nos oferece ferramentas, por exemplo, para compreendermos que um juiz que julga parcialmente um acusado de corrupção, estabelecendo uma relação de conluio com um procurador para condenar o acusado sem provas concretas, está agindo de forma corrupta contra a república. Não só o juiz, mas o procurador na mesma medida. Portanto, bem mais do que o desvio do dinheiro público por políticos, a corrupção também se refere ao desvio de conduta de agentes públicos em geral com a coisa pública. O agente público, servidor público, o político, devem zelar pela coisa pública. Os políticos também são servidores públicos. São eleitos para servirem o público. São funcionários do povo, como de certa forma escreve Rousseau. Devem zelar pelo que é público e discernirem o público do privado. Por conta disso, quando agentes públicos ou políticos tratam a coisa pública como trampolim para saciar desejos ou interesses pessoais, eles estão atentando contra a república, agindo corruptamente. A prevaricação no serviço público, isto é, “fazer vista grossa”, ser conivente com a corrupção, permitir a corrupção, não enfrentar o problema ou punir os corruptos, também é um desvio de conduta em relação à coisa pública, logo, prevaricar também é um ato de corrupção. Vista como desvio de recursos públicos, a corrupção parece ser mais facilmente identificada. Por exemplo, quando supostamente o Ministério da Saúde negocia a compra de vacinas com uma empresa que não tem o aval da indústria farmacêutica e há suspeitas de que um agente público do referido ministério oferece propina para negociar os imunizantes, a corrupção parece evidente, pois estamos tratando de recursos públicos. Outro exemplo, quando deputados ou senadores contratam funcionários fantasmas para os seus gabinetes com o objetivo de abocanhar mais recursos públicos e enriquecerem ilicitamente, a corrupção aqui também parece evidente, visto que também estamos falando de recursos públicos. Todavia, mesmo nesses casos, a corrupção não deve ser vista apenas como um desvio ou um ataque aos recursos públicos, mas também como um comportamento corrupto.
A tradição republicana, Rousseau incluído, tende a uma condenação do luxo, como um caminho que leva à corrupção. Por que o luxo é tão pernicioso para a saúde da república, na visão desses autores? Este é um tema que, no seu ponto de vista, pode ser reatualizado para pensar a realidade sociopolítica contemporânea, por exemplo, vinculando-o à questão do consumismo?
O luxo é condenado porque ele é um reflexo da desigualdade social. A desigualdade social explicita uma profunda fratura entre ricos e pobres. Quanto mais prevalece a desigualdade social, menor a possibilidade de liberdade política e de cidadãos comprometidos com a República, uma vez que a desigualdade promove a dependência pessoal de uma pessoa à outra, gera a cobiça, a inveja e, inevitavelmente, o luxo. Sim, penso que o tema pode ser reatualizado. Se pensarmos em termos contemporâneos, podemos reconhecer no consumismo o luxo. O consumismo representa um reforço das desigualdades sociais. Ele evidencia os abismos econômicos e sociais e ressalta uma mentalidade individualista. Ressalta, ao mesmo tempo, a existência de uma concentração de riqueza na mão de poucos. Tal mentalidade é extremamente nociva para a República, pois se contrapõe aos valores ou fundamentos estruturantes do regime republicano como a igualdade e a frugalidade (costumes simples). A igualdade, diga-se de passagem, se apresenta como uma peça fundamental na engrenagem política republicana, porém, ela não se limita à igualdade perante a lei, mas abrange a promoção de uma igualdade de condições materiais e uma igualdade de oportunidades. A contraposição exercida pelo consumismo em face dos valores republicanos introduz outros valores no coração da República, que não correspondem a uma vida republicana.
No que diz respeito a Rousseau, você aponta três fenômenos que contribuem para a corrupção da república: o tempo, a desigualdade social e as facções. Você poderia explicar como eles operam? É possível combatê-los ou eles acabam por se revelar inexoráveis, aqui retomando um mote da tradição republicana, segunda a qual as repúblicas, mais cedo ou mais, acabam sucumbindo à corrupção?
Em síntese, tais fenômenos operam da seguinte forma: o tempo, basicamente porque com o transcorrer dele, surgem, por exemplo, tensões entre governo e soberano, a saber, o governo, que desempenha o poder executivo, tende com o passar do tempo a querer concentrar mais poder. O governo passa a ter como ambição a usurpação de outro poder, o poder soberano (o legislativo), portanto, aqui tempos uma amostra da corrupção de um poder sobre outro, de um poder que ambiciona concentrar mais poder. A desigualdade social, porque têm sérios desdobramentos, o mais grave possivelmente seja o fato de notabilizar o luxo e assim contribuir para o advento da corrupção. As facções, por sua vez, se configuram em vontades corporativas que buscam prevalecer em detrimento do bem comum. São grupos com interesses particulares que tencionam corromper a construção do bem comum nas assembleias públicas, como se pode notar no republicanismo de Rousseau. O que há de comum entre esses fenômenos geradores da corrupção é que eles suscitam a dependência pessoal, portanto, têm o poderio de destruírem a liberdade. Tratando da sua segunda questão ou do desdobramento da primeira, ou seja, em outras palavras, se é possível combater o problema da corrupção considerando a sua inexorabilidade. Ora, partindo do pressuposto de que a corrupção é inevitável, a saber, com o passar do tempo a república será corrompida como em um processo natural de degeneração, a preocupação de Rousseau, ao invés de ser com a busca por uma república eterna, passa a ser com a durabilidade da república. Em suma, passa a ser a busca por encontrar mecanismos ou instrumentos eficazes o suficiente para conservar a república em longo prazo.
Voltando ao tema da liberdade, particularmente em Rousseau, no livro você aponta como a liberdade adquire múltiplas dimensões na obra do autor: temos a liberdade natural, a liberdade civil, a liberdade política. Como podem ser definidas essas diferentes formas de liberdade e como elas se complementam no pensamento rousseauísta?
Entendo Rousseau como um pensador da liberdade. Você elencou três expressões da liberdade no pensamento do autor genebrino. Essas liberdades podem, por exemplo, ser identificadas em duas obras fundamentais dele, como O discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens e o Contrato social. Na primeira, nota-se a presença da “liberdade natural”, que se inscreve como uma especificidade do homem em estado de natureza e consiste na capacidade de autonomia, expressando-se como uma vontade livre do homem. Quanto à liberdade civil e à liberdade política, podem ser atestadas no Contrato social. Para Rousseau, ser livre é não depender da vontade de outrem e não se submeter a uma vontade arbitrária. Seguindo essa delimitação conceitual, o pensador se empenha em estabelecer parâmetros para uma ordem política no âmbito do “deve ser”, mas tocando em questões reais e amiúde de cunho prático. A liberdade possível nessa ordem política, isto é, aquela que consegue manter o pressuposto de que ser livre é seguir a própria vontade, na minha intepretação, se configura em uma duplicidade complementar: a liberdade política e a liberdade civil. Explico. Os cidadãos, membros do corpo soberano, exercem a sua liberdade política ao participarem ativamente das assembleias públicas, buscando identificar a vontade geral, que é a vontade soberana do cidadão. Dessas assembleias emanam leis que enunciam a vontade geral. Ao respeitar essas leis, expressão da vontade geral, o cidadão desempenha a sua liberdade civil, essa consiste, portanto, no respeito às leis. Respeitar a lei, nesse caso, pode ser considerado um exercício da liberdade porque a lei é expressão da vontade do cidadão. Ao respeitar a lei, o cidadão está em conformidade com a própria vontade, logo é livre.

“Ao respeitar a lei, o cidadão está em conformidade com a própria vontade, logo é livre”
Você afirma em uma passagem do livro que a noção de vontade geral é uma das mais herméticas em Rousseau. Há mesmo quem veja nesse conceito de Rousseau uma forte componente de autoritarismo, já que a vontade geral do corpo coletivo acabaria por sufocar as vontades individuais. Em linhas gerais, como você define a vontade geral em Rousseau e refuta essas críticas que veem na vontade geral um instrumento de opressão?
Sem dúvida, a vontade geral é uma das noções mais herméticas e polêmicas na constelação de ideias que constituem o pensamento republicano de Rousseau. Todavia, eu discordo da interpretação de que a noção de vontade geral em Rousseau serviria como uma espécie de componente para “legitimar” regimes autoritários. Essa interpretação parece-me bastante contemporânea e deflagrada, sobretudo, após as experiências políticas autoritárias traumáticas que testemunhamos no século XX, isto é, os regimes totalitários como o nazismo, o fascismo e as ditaduras na América do Sul, por exemplo. Entretanto, essa interpretação não condiz com o que, de fato, o pensador genebrino tinha em seu horizonte teórico. Vou tentar clarificar. Muito da dificuldade que temos de compreender a noção de vontade geral se deve à retórica peculiar de Rousseau, à estilística de escrita adotada pelo autor. Estilística que frequentemente parece-me escorregadia e em se tratando dessa noção isso se sobressai. Mas, provavelmente, a estilística se sobressaia nesse momento justamente porque Rousseau está tentando nos mostrar o quão árduo é a realização da vontade geral. Em linhas gerais, por um lado, a vontade geral refere-se ao princípio que orienta as decisões tomadas pelos cidadãos e que torna a associação civil fidedigna ao propósito inicial da instituição política que é, como ressalta Michel Debrun, organizar a existência da comunidade segundo as normas racionais de justiça. A vontade geral tem como objetivo a realização do interesse comum ou bem público. A vontade geral diz respeito ao que há de comum entre as diversas opiniões. Assim, quando um cidadão participa de uma assembleia, ele terá a tarefa de identificar onde está o interesse comum na questão apresentada na assembleia. É interessante salientar que as assembleias só versam sobre assuntos públicos. Segundo Luc Foisneau, a vontade geral não é a aglomeração da maioria dos cidadãos, mas sim o interesse comum que os une ao todo. Olhando por tal enfoque, Helena Esser acrescenta que, ao afirmar que é fundamental a existência de um vínculo comum que proporcione a unidade entre os cidadãos, esta unidade decorre do empenho da construção da vontade geral mediante a criação de possibilidades para o consenso. Por outro lado, presumo que a leitura da “vontade geral como um instrumento de opressão” tem origem no problema das “facções”. A construção da vontade geral nas assembleias encontra-se exposta ao perigo de divisões secretas que visam a objetivos particulares e, por consequência, podem deflagrar uma ruptura com a inclinação “natural” da assembleia, isto é, a de enunciar o bem comum. As facções comprometem a liberdade, pois alteram o cerne da vontade geral nas assembleias públicas ao serem guiadas por uma vontade particular ou por vontades corporativas. As facções resultam de acordos exordiais firmados pelos cidadãos antes da realização das assembleias públicas, assim, os cidadãos vão deliberar sob a influência de certos grupos. Logo, o resultado da assembleia refletirá na posição de um grupo, o que impedirá a construção da unidade e de se alcançar o bem comum, imprescindível para a construção da vontade geral. Ao se opor as “facções” não vejo no pensamento de Rousseau uma “opressão” às vontades individuais, mas um reforço de que, em se tratando das deliberações públicas, os cidadãos realizem suas escolhas individualmente e não deliberem considerando conluios preliminares de grupos que visam tão somente alterar a vontade geral em benefício próprio, o que acarretaria prejuízos à identificação do interesse comum e da sua prevalência nas assembleias. Obviamente que a tarefa de buscar a prevalência da vontade geral nas assembleias é bastante laboriosa, posto que a sedução das facções tenda a ocorrer com frequência.
Entre os instrumentos que você destaca no livro para o combate à corrupção, de acordo com Rousseau, três podem causar espanto no leitor contemporâneo: a ditadura, a censura e a religião civil. Como eles operam? É possível visualizar alguma aplicação deles hoje ou pertencem definitivamente à estrutura das repúblicas antigas?
Em relação à “ditadura” e à “censura”, Rousseau tem como referência o uso dessas medidas na Roma antiga. Logo, esses instrumentos ou medidas não correspondem ao que compreendemos no mundo contemporâneo como ditadura (um regime degenerado e autoritário) e censura (repressão à liberdade de pensamento e à liberdade de expressão, por exemplo). Resumidamente, a “ditadura”, em sua acepção republicana e como medida contra a corrupção, consiste em um instrumento que poderá ser utilizado em momentos de crises na República. Podem surgir diversos acontecimentos inesperados, em decorrência disso, as instituições políticas devem ter a flexibilidade para serem suspensas em momentos de crise política e manterem um constante alerta. Rousseau defende que nesses momentos a lei assegure a convocação de um ditador (pode ser um homem ou um grupo de homens dotados de habilidades notáveis) para buscar solucionar a crise. O ditador receberá poder para isso, mas também um tempo determinado por lei para solucionar o problema, esse tempo pode ser seis meses ou um ano. Sobre a “censura”, ela é vista em Rousseau como um suporte basilar que cuida do zelo da opinião pública. Sua tarefa será a de preservar os costumes mais apropriados à manutenção da República e salvaguardar a sua durabilidade. Essa preservação inibirá a corrupção das opiniões, preservando sua integridade mediante o uso de medidas sábias. Quanto à religião civil, o recurso aparentemente o mais espinhoso entre as “medidas e providências contra a corrupção”, pode-se afirmar que ela se postula como um instrumento com a pretensa capacidade de servir de arrimo para estimular os cidadãos a se guiarem em consonância com os deveres públicos. Nesse sentido, a religião civil pode ser considerada uma instituição que oferece um recurso crucial para se articular o comprometimento dos cidadãos com a utilidade pública. Em minha opinião, dificilmente esses instrumentos poderiam ser aplicados no combate à corrupção das repúblicas contemporâneas. Acredito que existem outros mecanismos presentes na obra de Rousseau que seriam mais viáveis e talvez eficientes.
Outro meio de combate à corrupção se dá pelo cultivo da virtude cívica. Como essa ideia é desenvolvida por Rousseau? Você acha que é possível recuperar esse ideal no mundo moderno, marcado por um individualismo extremado?
Rousseau demonstra que as instituições republicanas têm a incumbência de fornecerem uma base crucial para a manutenção da República, porém isso por si só não basta para assegurar a longevidade do regime republicano. A República demanda que seus cidadãos sejam virtuosos. Precisamente, que tenham o que Rousseau chama de “virtude cívica”, portanto uma virtude política. A virtude cívica consiste no amor à República, às leis e à liberdade. Trata-se de um afeto que mobilizará os cidadãos a agirem em consonância com o bem público. Mas também que aguçará certa racionalidade para que eles se compreendam como parte de um todo, que adquiram uma “consciência coletiva”, digamos assim. Parece impossível pensar nesse tipo de recurso em um mundo marcado pelo extremo individualismo como o nosso. Um mundo marcado também por uma espécie de imediatismo cego. Penso, contudo, que Rousseau nos fornece sugestões importantes para a formação de cidadãos dotados de virtude política. A melhor delas consiste em investir em uma educação de qualidade que seja capaz de formar cidadãos virtuosos, ou seja, comprometidos com o bem público e com os demais valores republicanos. O filósofo genebrino fornece exemplos interessantes de como a educação pode contribuir para a formação desses cidadãos em suas obras de cunho prático, a saber, As considerações sobre o governo da Polônia e no Projeto de constituição para a Córsega. Na minha compreensão, podemos recuperar o lugar central que a educação deve ocupar em um Estado. A título de exemplo, no mundo contemporâneo, países como Finlândia, Singapura e Coreia do Sul, mediante a criação de projetos educacionais viabilizados em longo prazo, transformaram completamente suas realidades socioeconômicas. Não sei se formaram cidadãos virtuosos, mas conseguiram resultados educacionais surpreendentes e, com efeito, solucionaram uma série de outros problemas, por meio do investimento em educação. Enquanto isso, no Brasil, eu vejo com extrema preocupação o novo formato do Ensino Médio que desprestigia disciplinas como filosofia, história e sociologia, assim como me preocupa também os profundos cortes nos orçamentos das universidades.
“O discurso de repulsa à política fomenta um esvaziamento da própria política”
Na conclusão do seu livro, você diz que o tema da corrupção, da forma como ele é apropriado hoje por certos setores da vida política, pode acabar levando a uma aversão à política, com efeitos muito perniciosos para a vida pública. Você poderia detalhar um pouco mais esse raciocínio?
Concluo o livro com a impressão de que, além da corrupção como fenômeno político funesto com poderio altamente destrutivo para a República, existe também algo bastante pernicioso que é o “discurso sobre a corrupção”, precisamente a apropriação desse discurso por certos setores da vida política. A apropriação do “discurso sobre a corrupção” é capaz de produzir um profundo desinteresse pela política e, mais ainda, um sentimento social de repulsa ou aversão à política. Esse discurso é nocivo porque, em nome de um suposto “combate” à corrupção, defende, na realidade, a extirpação de grupos e atores políticos que contribuem para a pluralidade de ideias que enriquecem a vida pública. Esse discurso forneceu recentemente na história internacional e nacional um arsenal decisivo para que políticos “aventureiros” (supostos outsiders) conquistassem as massas, tomassem o poder e instalassem regimes totalitários, que tiveram efeitos violentos para milhões de pessoas. O discurso de repulsa à política fomenta um esvaziamento da própria política como recurso eficaz para a tomada de decisões e ações públicas que teriam o objetivo de melhorar a vida coletiva. Em seu lugar, a meu ver, se introduz a ideia de centralização das soluções para os problemas de uma nação exclusivamente em personagens que adotam tais discursos. Em geral, políticos com inclinações autoritárias, que empregam retóricas messiânicas, com o objetivo de envolver ou seduzir a massa e instaurar regimes totalitários, como bem assinalou Hannah Arendt. Resumindo, eu identifico a apropriação do “discurso sobre a corrupção” como uma vulgarização do problema da corrupção em si, essa apropriação é extremamente deletéria e costuma ser utilizada por políticos oportunistas com tendências autoritárias, em especial, em momentos de crises institucionais e econômicas.
Livro: Corrupção política e republicanismo – a perda da liberdade segundo Jean-Jacques Rousseau
Autor: Vital Alves
Editora: Dialética
Páginas: 347
Preço: R$ 79,90
Onde adquirir: https://loja.editoradialetica.com/